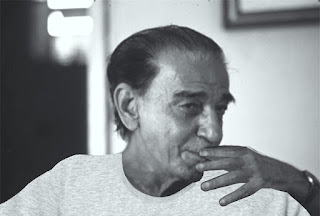sexta-feira, 29 de novembro de 2019
Não Podia Simplesmente Voltar para Casa Depois da Guerra e Esquecer Tudo
quinta-feira, 28 de novembro de 2019
A Saudade Mata a Gente
terça-feira, 26 de novembro de 2019
Tampa da Vida – Trecho de Falcão Maltês, de Dashiel Hammett
Um homem chamado Flitcraft deixou um dia o escritório de sua empresa de carvão, em Tacoma, para tomar um lanche, e nunca mais voltou. Faltou a um compromisso para jogar golfe nessa tarde, depois das quatro horas, apesar de ter sido marcado por sua iniciativa menos de meia hora antes de sair para o lanche. Sua mulher e os filhos nunca tornaram a vê-lo. Ele e a mulher pareciam estar nas melhores relações. Tinha dois filhos, meninos, um de cinco anos, outro de três. Possuía casa própria, num subúrbio de Tacoma, um Packard novo, e tudo o mais que faz parte da vida de um americano em próspera situação. Flitcraft herdara setenta mil dólares de seu pai, e devido ao seu êxito com o carvão, estava com cerca de duzentos mil dólares, quando sumiu. Seus negócios se achavam em ordem, apesar de haver alguns incompletos, em número suficiente para indicar que não os estivera arrumando de propósito, com o fim de desaparecer. Uma transação que lhe daria um lucro sedutor, por exemplo, estava para ser concluída no dia seguinte ao do seu desaparecimento. Nada indicava que tivesse consigo mais do que cinqüenta ou sessenta dólares, quando sumiu. Seus hábitos, nos meses anteriores, podiam ser estimados como muito metódicos, para justificar qualquer suspeita de vícios ocultos, ou mesmo de outra mulher em sua vida. Assim, qualquer dessas hipóteses era quase impossível. — Ele sumiu — disse Spade — como um punho, quando se abre a mão.
(…)
Bem, isso foi em 1922. Em 1927, eu trabalhava numa das grandes agências de detetives de Seattle. A sra. Flitcraft nos procurou e nos contou que alguém vira um homem em Spokane que se parecia muito com o seu marido. Dirigi-me para lá. Era Flitcraft, realmente. Vivia em Spokane, havia alguns anos, como Charles (era esse o seu primeiro nome) Pierce. Tinha um negócio de automóveis que estava lhe rendendo de vinte a vinte e cinco mil dólares líquidos por ano, uma esposa, um filhinho, possuía uma casa em um subúrbio de Spokane, e normalmente saía para jogar golfe depois das quatro horas da tarde, durante a temporada. Spade não tinha sido muito bem instruído sobre o que devia fazer, quando achou Flitcraft. Conversaram no quarto de Spade, no Davenport. Flitcraft não se sentia culpado. Tinha deixado sua primeira família bem amparada, e o que fizera parecia-lhe perfeitamente justo. A única coisa que o aborrecia era a dúvida de que pudesse demonstrar isso a Spade. Nunca contara a sua história a ninguém, e assim não se vira obrigado a tentar essa demonstração. Tentou nessa ocasião. — Compreendi perfeitamente — asseverou Spade a Brigid O'Shaughnessy —, mas a sra. Flitcraft nunca conseguiu entender. Achava absurdo. Talvez fosse. De qualquer maneira, tudo acabou bem. Ela não queria escândalo, depois da peça que ele lhe pregou, no seu modo de ver, também não o queria mais. Assim, divorciaram-se sem barulho, e tudo ficou bem.
— Veja o que lhe aconteceu. No caminho para o lanche, passou por um prédio em construção. Um andaime, ou coisa parecida, caiu de uns oito ou dez andares, e arrebentou o passeio ao seu lado, passando muito próximo dele, mas sem acertá-lo, apesar de um estilhaço do passeio atingir-lhe o rosto. Arrancou-lhe apenas um pouco da pele, mas tinha ainda a cicatriz, quando eu o vi, e ele a esfregou com o dedo, carinhosamente, quando me falou nela. Ficou bastante assustado, disse, mas mais chocado do que realmente amedrontado. Sentia-se como se alguém tivesse tirado a tampa da vida, e o deixasse ver o seu funcionamento. Flitcraft fora um bom cidadão, bom marido e pai, não por influência estranha, mas simplesmente porque era um homem que se sentia melhor quando de acordo com o ambiente. Tinha sido criado assim. Todos os seus amigos também. A vida que ele conhecia era uma coisa sã, limpa, ordenada, cheia de responsabilidades. Mas um andaime que caiu mostrou-lhe que a vida, fundamentalmente, não era nada disso. Ele, o bom cidadão, marido e pai, podia ter sido varrido para fora entre o escritório e o restaurante, pela queda acidental de um andaime. Ficou então sabendo que se podia morrer assim por acaso, e viver apenas enquanto a sorte cega nos poupasse. Não era, em princípio, a injustiça disso o que o perturbava: ele a aceitou, após o primeiro choque. O que o perturbava era a descoberta de que, ordenando sensatamente suas ocupações, saíra do ritmo da vida, em vez de se manter nele. Disse que teve consciência, antes de se afastar uns cinco metros do andaime caído, de que nunca teria tranqüilidade de novo, enquanto não tivesse se reajustado a essa nova concepção de vida. Ao acabar de tomar o lanche, tinha achado os meios de se ajustar. A vida podia terminar para ele, por acaso, sob um andaime; ele transformaria a vida, por acaso, simplesmente partindo. Amava a família, disse ele, tanto quanto supunha, mas sabia que a deixava convenientemente amparada, e que seu amor por ela não era de tal espécie que tornasse sua ausência dolorosa.
— Dirigiu-se a Seattle nessa tarde — continuou Spade — e daí veio de navio a San Francisco. Durante alguns anos errou por aqui, e então rumou de volta ao noroeste, estabeleceu-se em Spokane, e casou-se. Sua segunda mulher não era igual à primeira, mas eram mais parecidas do que diferentes. Você sabe, dessa espécie de mulheres que jogam corretamente golfe e bridge, e gostam de receitas novas de salada. Ele não se arrependia do que tinha feito. Parecia-lhe bastante justo. Penso que nem mesmo tinha consciência de que tornara a se estabelecer nas mesmas bases das quais tinha fugido de Tacoma. Mas essa é a parte da história que sempre me agradou. Ele se ajustou aos andaimes que caem, e então não caiu mais nenhum, e ele se ajustou aos andaimes que não caem.
---------------
Trecho de Falcão Maltês, de Dashiel Hammett.
Curiosidade: Essa pequena história, contada pelo personagem principal, o detetive Sam Spade, serve de mote para a trama de Noite do Oráculo, de Paul Auster.
segunda-feira, 25 de novembro de 2019
Celular, Modos de Usar
Eu me dei conta de que o celular estava tomando demais o meu tempo quando meu filho, que tem um ano e meio, largou a bola, seu brinquedo favorito, e começou a querer brincar com o meu smartphone. Imagino que, na cabecinha dele, aquele aparelho com luz intermitente deva ser algo fabuloso, pois seu pai está vidrado nele por horas. O que tem de tão legal e divertido ali?, ele pensa. Certamente, algo muito melhor que ficar chutando uma bola.
Meu pequeno ainda não sabe concatenar frases, mas sabe como mexer em um smartphone. Imita seus pais, seus avós e todo mundo à sua volta, apertando os botões e passando o indicador por toda a tela. Um sinal dos tempos. E um sinal um tanto preocupante. Não sou o único pai angustiado. Para se ter uma ideia, Bill Gates, fundador da Microsoft e um dos "culpados" por disseminar esse vírus tecnológico em escala global, não permitiu que seus filhos tivessem celular antes dos 14 anos.
O smartphone e seus conteúdos atraentes, persuasivos, nos distraem do que realmente acontece à nossa frente. Comigo foi assim. Afinal, eu deveria estar me divertindo com meu filho e com aquela bola - que me divertiu por toda a infância, uma infância sem celular. Essa culpa de pai ausente, mesmo estando fisicamente presente, me fez buscar a quase utópica desconexão. Falo em utopia porque, atualmente, no Brasil, temos mais celulares do que pessoas: já são 215 milhões de aparelhos, para uma população de 211 milhões (ou seja, 102% de celulares em relação à população). Os números confirmam que estamos diante de uma realidade - virtual - inescapável. Ficar imune aos áudios, imagens, mensagens, publicações que esses aparelhinhos disparam parece um desejo quase impossível de se realizar.
Sou jornalista, portanto o smartphone é, para mim, também uma ferramenta de trabalho. Não tenho como abandoná-lo, nem sou ingênuo a esse ponto, pois correria o risco de me tornar mais um na lamentável estatística de 12,5 milhões de desempregados no país. Contudo, tenho me esforçado para usá-lo de forma racional e conforme sua verdadeira funcionalidade: ser apenas um dispositivo, e não uma extensão da minha vida. Eu quero e tenho que controlar essa conectividade, não o contrário. Um estudo da Google, realizado nos EUA, atestou que, em média, as pessoas checam cerca de 150 vezes o celular durante o dia. Devo estar próximo disso - ainda estou no início da "desintoxicação" - e me nego a achar essa postura normal.
O celular como é hoje, um minicomputador com milhares de funcionalidades e possibilidades, existe há 12 anos - a primeira geração do iPhone foi lançada em 29 de junho de 2007. Esse aparelho “esperto” – tão esperto que - já consome sozinho cerca de três horas do dia dos brasileiros. Somos o quinto lugar no ranking global de tempo despendido. Voltando ao meu próprio exemplo. Em um dia apenas, eu passei duas horas e trinta minutos - com 67 checagens ao aparelho - interagindo ou utilizando o celular, conforme o aplicativo Moment, que monitora acessos. Para quê tanta informação? Não tenho como acumular esse entulho de dados, textos, imagens, vídeos, interações. O resultado é uma crise de atenção. Estou constantemente disperso em futilidades notificadas em "tempo real". No fim do dia, só resta a exaustão física. Do que li, vi e interagi resta pouca coisa.
Algo que foi criado para ajudar e facilitar está atrapalhando e dificultando minha rotina, como todo vício faz. Preciso assumir essa dependência e buscar o tal uso consciente do celular. Se não fizer nada para mudar, já imagino essa conversa em 2025:
- Pai, como era a vida antes do Google?
- Não sei, filho, joga no Google e vê.
Lógico que esse diálogo entre duas pessoas hiperconectadas é uma brincadeira, mas confesso que um dos sintomas que a dependência digital tem me causado é o esquecimento. Até mesmo de como era vida antes da tecnologia. Lembram-se dos dicionários, das enciclopédias, de ter que perguntar para alguém como chegar a algum lugar, das televisões sem controle remoto, de só ficar sabendo das coisas um tempão depois? Pois é...
Outro problema, mais grave, é a consequente falta de tempo. Junto dele, as desculpas esfarrapadas para não escrever (esse texto, por exemplo), ler um livro, passear com a família, ir ao mercado, limpar a casa, visitar alguém. É desolador se dar conta disso. Uma vida que se esvai, atrelada a um aparelho de 15 centímetros, que cabe no bolso.
Por sorte, meu filho está me trazendo de volta à realidade e às coisas simples, as que realmente fazem a diferença. Ficarei bem melhor assim, com ele - e o mais longe possível do celular.
-----------
Texto original publicado no site Mínimo Múltiplo
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Extinção - Poema Régis Bonvicino
Extinção
(Régis Bonvicino)
O lobo-guará é manso...
foge diante de qualquer ameaça.
é solitário;
avesso ao dia, tímido,
detesta as cidades.
para fugir do ataque
cada vez mais inevitável
dos cachorros
atravessa estradas.
onde quase sempre é atropelado.
onívoro, com mandíbulas fracas
come pássaros, ratos, ovos, frutas.
às vezes, quando está perdido,
vasculha latas de lixo nas ruas.
engasga ao mastigar garrafas
de plástico ou isopores.
se corta ou morre ao morder
lâmpadas fluorescentes
ou engolir fios elétricos.
morre ao lamber inseticidas...
ou restos de tinta
ou ao engolir remédios vencidos
ou seringas e agulhas
descartáveis !!
dócil, sem astúcia,
é facilmente capturado e morto
por traficantes de pele.
quando, então, uiva,
quando , então, uiva...
quinta-feira, 14 de novembro de 2019
Vaidade e Teimosia
Comigo as palavras são só palavras. Não tenho pose de artista. Não tenho bandeiras - que não seja a bandeira da Literatura, que fique bem claro.
E, hoje, isso significa não ter representatividade artística, não ter um grupo a qual pertencer, não ter uma prateleira de destaque.
Um conto meu com a temática homoafetiva não é um conto com a temática homoafetiva, por exemplo. Porque eu, o autor, não hasteei a bandeira. Agindo dessa forma, como um apátrida, apequeno minha obra.
Meus personagens se queixam para mim, porque querem ter vida própria. Me tiram o sono à noite com suas cantilenas. "Sou o criador, não a criatura, meu Deus!", eu digo a eles e mando se calarem que já é tarde.
No fundo, até os entendo. Sei que me falta a afetação necessária, a mão amparando o queixo na foto da contracapa do livro, o olhar distante e a causa certa a que lutar - a causa que o momento pede.
Eu sei como e o que fazer. Mas, simplesmente, me nego.
quinta-feira, 7 de novembro de 2019
A Primeira Impressão de Dummy, disco do Portishead
EDITOR DA ILUSTRADA
Já é maio, quase meio do ano, então já dá para usar aquele clichê favorito dos críticos de música: ``Se você tiver que comprar só um disco este ano, tem que ser este". No caso, o álbum é ``Dummy", do Portishead.
Por enquanto, ele só existe importado no Brasil. Custa um pouco mais caro, claro. Mas, para juntar R$ 25 ou até R$ 30 para este fim, qualquer esforço é justificado. Se necessário, roube.
Mas atenção: ouvir Portishead não é uma experiência das mais alegres.
Dá para dançar, é verdade -dentro do novo ritmo que a turma de Bristol acabou impondo à temporada (leia texto nesta página). Mas ouça ``Dummy" preparado para terminar em lágrimas.
Esta expressão, aliás, é tirada de um dos álbuns mais importantes dos anos 80, ``It'll End in Tears", do This Mortal Coil.
Fundamental para entender a melancolia das bandas inglesas da década passada, ``Tears" é uma boa referência para o trabalho da banda, ainda que só pelo teama.
Dez anos depois (``Dummy" foi lançado no segundo semestre de 94 na Inglaterra), o Portishead retomaria a depressão do This Mortal Coil, só que a elevando ao nível do ultra-sublime -quase à beira do suicídio.
E, só lembrando, mesmo com essa tristeza toda, é possível dançar ao som de Portishead.
Só nos Estados Unidos eles já venderam 400 mil cópias. Mais 250 mil na Inglaterra e algo como 200 mil no resto da Europa. Isto é, no mínimo, uma boa conta para quem não tinha a menor pretensão de fazer sucesso.
Aos 30 anos, a cantora Beth Gibbons já tinha certamente passado de qualquer pretensão adolescente de se tornar uma popstar.
Mais jovem, Geoff Barrow, 23, é um daqueles ratos de estúdio pouco interessados em colocar suas cabeças para fora.
Fora que eles vêm da cidade que dá nome à banda, a oeste de Bristol (costa oeste da Inglaterra).
Nos parâmetros normais do mercado de música pop, o apelo comercial do Portishead seria igual a zero. Sua melancolia não se refere à angústia calculada da corja pós-grunge americana.
Beth Gibbons também não tem nem um traço sequer de ``popstar".
Então uma das explicações possíveis pode ser a sua voz. Tem que ser.
As comparações na imprensa musical internacional não são muito criativas. Elas se repetem entre Edith Piaf e Billie Holliday. Mas você pode jogar qualquer outro elemento para descrevê-la.
Gibbons tem o ``non-chalance" de Debbie Harry (Blondie), a sofisticação de Sade, a distância de Tracy Thorn (Everything But the Girl), a clareza de Alice Statton (Weekend), a fragilidade de Dolores O'Riordan (Cranberries) etc.
É como se cada faixa de ``Dummy" sugerisse uma inspiração de Beth. Ela vem forte em ``Glory Box", quando canta o lugar-comum ``I just to be a woman" (``eu só quero ser uma mulher").
Ou vem indefesa em ``Sour Times" ao confessar ``nobody loves me just like you do" (``ninguém me ama como você"), sua voz é um convite à doce sedução da destruição emocional. Resista -é melhor para você.
Só que, se fosse só pela voz, Beth poderia entrar para a lista de talentos perdidos que gravitam no universo pop. Suas chances eram realmente poucas.
Mas a tristeza era profunda. E provavelmente a necessidade de milhares de pessoas de se identificar com isso também.
As músicas de ``Dummy" falam basicamente de solidão: ``Essa solidão que não me deixa só", como Gibbons canta na faixa ``Dumb".
O verso é obviamente cínico, já que a impressão é de que ela não quer deixar de sentir-se assim.
Solidão é a inspiração para o grupo. Mais que isso, é uma obsessão, um meio e um fim a ser degustado, um assunto do qual não se fala, mas se vive.
É uma maneira de preencher um vazio entre uma decepção emocional e a decisão de não viver mais.
O estado de espírito miserável das músicas do Portishead é tão invejável que, na esperança de ouvir novas composições no futuro, você até torce para que eles nunca encontrem alguém que os satisfaça.
Egoísmo explícito, correto. Mas tudo que você quer depois de ouvir ``Dummy" é que eles prolonguem esse clima, esse ``ennui". Pelo menos para você poder dançar um pouco mais.
Publicado originalmente em 1º de maio de 1995
terça-feira, 29 de outubro de 2019
Ananda Daya - Conto de Antônio Carlos Viana
 |
| 1944 - 2016 |
terça-feira, 15 de outubro de 2019
Quando Pedro Perdeu a Paciência
Tive a sorte de trabalhar alguns anos com o mestre Pedro Farias, na Unisinos. Um exímio cinegrafista. Uma figura humana doce, que orientou milhares alunos nas cadeiras de televisão do curso de Jornalismo. De certa forma, era um professor.
E eu fui seu auxiliar de externa. Carregava aquele monte de tralha que fica atrás das câmeras. Cabos, microfones, maletas, tripés, luzes, monitor... Uma função! E das mais cansativas. Mas tinha 20 e poucos anos e precisava daquela bolsa-auxílio. Também me ajudava o fato de eu ter físico e fôlego de maratonista. Então, tirava de letra.
Gravávamos documentários e grandes reportagens com frequência. Só que no Jornalismo, como na vida, as coisas não acontecem como o planejado. No dia de filmar na rua, chovia. Ou, quando a entrevista estava agendada, a fonte sumia. É assim. E Pedro não se enervava com nada disso. Aguardava as novas definições e refazia o trabalho. Tudo bem se ficasse para outro dia e atrapalhasse seus compromissos. A maior virtude dele sempre foi a paciência. O homem tinha uma serenidade exemplar, digna de templo budista.
Mas teve um dia que Pedro perdeu a paciência. Um só.
Estávamos no Mercado Público de Porto Alegre acompanhando a rotina das pessoas e funcionários do local. Chegamos antes do Sol, dos peixeiros e dos entregadores. E a coisa foi indo. Dezenas de entrevistas, diversos pontos de captação de imagem. Sobe escada. Desce escada. Espera o entrevistado. Corre que o entrevistado só pode agora.
Horas e horas de fitas (ainda eram fitas). A coisa tava sem controle. Aparentemente parecia que o pessoal queria resolver o documentário em um dia apenas, de tanto material captado. Eu estava exausto. Só o monitor, que transmitia o que estava sendo gravando, pesava mais de 30 quilos. Sem contar os outros equipamentos que levava por todos os confins do Mercado.
Quando acabou, já era noite. Bancas fechadas. Ninguém circulando pelo local. O grupo responsável pelo documentário avaliou o conteúdo e disse que seriam necessárias mais duas externas. Tive uma crise. Juntei tudo, como um polvo louco, e fui em direção ao carro da tv. Indignado! Pedro veio atrás e ficou ouvindo meus impropérios.
- Porra! Hoje, foi foda! Vão tomar no cu! Tô moído, caralho! Quase quinze horas de gravação, Pedro! Eles acham que a gente é de ferro?! E ainda vão querer mais duas externas nessa pegada?! Vão se fuder!
A coloração do rosto do Pedro se alterou. Uma veia se sobressaiu em seu pescoço. Seus olhos em brasa. Estava nitidamente puto da cara e não se conteve.
- É... Tem vezes que é complicado mesmo.
terça-feira, 1 de outubro de 2019
Pato Fu Era Bom
Em algum momento da carreira, o Pato Fu meteu um sorvete na testa. Virou uma banda de abobalhados.
Mas, antes disso, eles faziam um som pra lá de bacana. Ou, talvez, na época do auge deles, lá por fim dos 90/início 2000, eu estivesse apaixonado por alguém e era mais tolerante e sensível com tudo ao meu redor. Vá saber...
Enfim, o fato é que ouvia esse ao vivo do Pato Fu direto. Boas baladas e experimentação na dose certa.
Hoje, ouvi de novo, mais velho e mais ranzinza, e o disco segue muito bom.
sábado, 28 de setembro de 2019
Os Melhores Livros Que (Ainda) Não Li
Lista baseada em recomendações eufóricas de amigos, pitacos da crítica especializada ou puro achismo mesmo.
Fup - Jim Dodge
Caninos Brancos - Jack London
A Alma Encantadora das Ruas - João do Rio
O Jovem Torless - Robert Musil
Os Meninos da Rua Paulo - Ferenc Molnar
Meus Lugares Escuros - James Ellroy
Big Loira - Dorothy Parker
Felicidade - Katherine Mansfield
Aberto Está o Inferno - Antônio Carlos Viana
A Estrada - Cormac McCarthy
Lugar Público - José Agrippino de Paula
Foi Apenas um Sonho - Richard Yates
terça-feira, 24 de setembro de 2019
Daniel Johnston
 |
| 22 de janeiro de 1961 | 10 de setembro de 2019 |
quinta-feira, 19 de setembro de 2019
Tive Razão
Hoje, as crianças sabem quase tudo. O que elas não sabem, procuram na internet. Antes, quando eu era piá, não sabia coisa nenhuma. Tempos sem internet. Um exemplo. Quando eu tinha 12 anos, foi lançado o filme The Wonders - O Sonho Não Acabou, um grande sucesso na época. A música tema,That Thing You Do!, foi primeiro lugar nas paradas mundo afora.
Meu amigo Pedro, que também era criança em 1996, jurava que a história do filme, de um grupo musical de um sucesso só, era “baseada em fatos reais”. Ou seja, para ele a banda The Wonders realmente tinha existido. Já eu achava que não. Nunca tinha ouvido falar nela. Não havia nada parecido nas fitas cassete lá de casa.
E o que as crianças faziam antes da internet existir? Pesquisavam em dicionários, enciclopédias ou saiam por aí perguntando. Questionavam os pais, irmãos mais velhos, tios, avós, vizinhos... Enfim, a gente enchia o saco dos adultos, porque eles tinham a resposta certa para tudo. Quando meus pais não sabiam de algo, eles me diziam assim: “Pergunta pra tua professora, então”.
Até minha professora foi sabatinada sobre a existência ou não da tal The Wonders. Mas ela não via muito televisão, nem gostava de cinema. O resultado da pesquisa é que metade das pessoas consultadas por mim e Pedro dizia que a banda existiu. A outra, que não. Fomos atrás e nada de provas cabais, nenhum documento que atestasse e definisse quem estava certo. Chegamos a cogitar ligar para os Estados Unidos. Mas quanto em fichinhas telefônicas daria? Abortamos a missão, pois antigamente era assim. Nós tínhamos que conviver com discussões sem vencedores. Algo impensável para tempos de Google.
Recordei toda essa história porque, dia desses, estava ouvindo a Continental FM no carro, enquanto ia do trabalho para casa, e tocou That Thing You Do!. Era o momento, 23 anos depois, de pôr fim à dúvida. Joguei no Google e encontrei a resposta.
----------------------------
Crônica publicada no Mínimo Multiplo
terça-feira, 27 de agosto de 2019
As Armadilhas de Pâmela
O brasileiro é impressionante. Num espaço de 3x3 o pessoal faz uma tabacaria, lan house e salão de beleza. "Corte + barba = 20 reais". Entrei e, como sempre, já puxei conversa. Falei que tenho máquina de cabelo em casa, mas ando sem tempo pra cortar.
- Tu sabia que sou um dos únicos afiadores de máquina de Porto Alegre? - falou o barbeiro.
- É? Eu nem sabia que elas tinham fio.
- Pois é. Elas tem sim.
- Tu vê! Vivendo e aprendendo.
- Essa aqui ó, eu mesmo afiei.
E acabou o assunto. O barbeiro se voltou para a moça do caixa.
- Como eu tava te falando Pâmela, isso é psicanálise.
- Aham.
- Semeia minhas palavras que tu vai entender.
- Tá bem.
- Na real, teu problema são as ratoeiras que tu coloca no caminho.
- Como assim?
- Olha pra mim, Pâmela!
- Tô olhando.
- Tu vai acabar virando uma presa das tuas próprias armadilhas.
O homem voltou ao trabalho, concentrado. Só se ouvia ali, naquele espaço apertado, o motorzinho da máquina afiada. Nada mais. Pelo espelho, vi o olhar da tal Pâmela se perder pela avenida Borges de Medeiros.
segunda-feira, 19 de agosto de 2019
Entrevista para o Projeto Como Eu Escrevo
"Como eu escrevo" é um projeto onde vários autores comentam como é sua rotina de criação.
Depois de três livros publicados (um quarto em edição) já dá pra ter algumas manias e falar um pouco sobre como funcionam as coisas pra mim.
Então, taí:
https://comoeuescrevo.com/lucas-barroso/
segunda-feira, 29 de julho de 2019
O Guri e a Mendiga
Fim de semana é de lei. Pego meu guri, o Murilo, coloco na motoca e vamos circular pelo bairro. Pegar Sol, ver coisas diferentes, bichos, árvores, gente. Quem cruza nossa caminhada dá um sorriso, puxa uma conversa. O gurizinho geralmente não dá atenção aos desconhecidos simpáticos. Prefere interagir com cachorros, folhas de árvores ou sacos plásticos.
Dessa vez, estávamos na avenida Protásio Alves e uma mendiga escalavrada, fedendo, fumando bituca nos parou. Por mera educação, parei também.
- Que lindinho! – ela disse.
Sorri sem jeito. A mulher não teve coragem de se aproximar ou tocá-lo. Murilo abanou, bateu palmas e falou algo em sua língua de pequeno selvagem. Tudo ao mesmo tempo.
A mendiga riu com sua boca em frangalhos e seguiu, caminhando de ré, olhando o guri e abanando de volta. Continuamos pela avenida e Murilo foi mais uns metros da mesma forma: se despedindo da mulher.
Eu pensei, "tadinho, ainda não sabe nada da vida". Mas, ao longo do caminho, tive a impressão que nós, os adultos, que sabemos cada vez menos.
sexta-feira, 26 de julho de 2019
Os Casais no Restaurante
Eu vejo alguns filmes e sinto saudade de quando eu era garçom. Os personagens ficam com suas DRs intermináveis, fazendo caretas tristes e repetindo os mesmos clichês - "você não me quer mais, é isso?" ou "a cada dia que passa, te reconheço menos" ou "a gente perdeu a intimidade" ou "não faz mais sentido seguirmos assim". Blá blá blá blá... Como telespectador simplesmente não posso fazer nada que mude o rumo da história, tenho que esperar a próxima cena ou dar stop e desistir.
Quando eu era garçom era diferente. O princípio da DR dos clientes era sempre extasiante pra mim, porque havia um gatilho. Era geralmente ciúme ou a fatídica conversa de fim da relação. Só que, como disse, a coisa ficava entediante. Então, eu me aproximava e intervinha.
- Como estão as coisas aqui, pessoal? Vai mais um chopp? Querem uma sugestão de sobremesa?
Era um baque. Eles perdiam o fio da meada. Existia um mundo ao redor deles. Alguns, pediam qualquer coisa para eu sair dali. Outros, caiam em si, respiravam fundo e pegavam o cardápio. Acabei com muitas DRs só na base do atendimento circunstancial.
Claro, tinha o outro lado da moeda. Os casais recentes com o fogo em brasa. Podia-se erguer todas as cadeiras sobre as mesas e eles seguiam lá, com seus risinhos, beijinhos melosos e picardias. Tudo isso às 1h. E garçom não pode ir embora enquanto tiver cliente no salão. Obviamente, eu ia lá e interrompia também.
- Querem mais alguma coisa aqui, gente? Um chopp? Mais uma sobremesa, quem sabe? Ah, só pra avisar que desligamos a chapa. Não temos mais como preparar nada.
- Tudo bem, campeão! Nem te estressa. Traz mais um chopp pra nós.
Nesse caso, me atravessar na conversa alheia era pior dos mundos, porque eles seguiam no restaurante. E isso significava que eu só ia pra casa madrugada adentro, esperando mais de uma hora na parada a porcaria do ônibus Corujão.
quinta-feira, 25 de julho de 2019
Ferrugem
Depois de três livros, não tenho mais aquela ânsia de concluir algo. Aquela energia em excesso ficou para trás. Ainda gosto da inspiração e não desperdiço lampejos. Sigo registrando tudo que me é novo, como um turista japonês com sua insuportável câmera fotográfica.
Mas esse click parece pouco e, hoje, me dou ao luxo de burilar cada palavra, de desgastar cada palavra. Todo dia uma vírgula, um versinho.
Eu coloco no papel. Eu espero. Faço um mate. O texto fica lá, exposto a maresia. A ferrugem tomando conta. Até que o conjunto todo, o tal livro, começa a ter sentido.
segunda-feira, 1 de julho de 2019
Oficina Literária em 1 Minuto
sábado, 15 de junho de 2019
Vaza Jato e as Perguntas (Ainda) Sem Respostas
Os ânimos andam exaltados e o mundo está cada vez mais repleto de certezas. Hoje, nos cobram um posicionamento sobre tudo. Não há jeito. Tem que se optar por A ou B. Em muitos casos, ficar em cima do muro é o melhor a se fazer, pois dele é possível admirar melhor o inferno que está lá embaixo. É o caso da Vaza Jato. Ao comentar o vazamento das conversas de promotores e do então juiz responsável pela Operação Lava Jato, escolho, por ora, o terreno da dúvida.
Não vou me deter aos aspectos legais do caso, nem ao teor do conteúdo divulgado. O foco das minhas interrogações estará nas motivações do vazamento. Outro ponto relevante que levo em conta, como a maioria das matérias sobre o vazamento levou, incluindo a do The Intercept Brasil (site que divulgou os diálogos), é a dupla Deltan Dalagnol e Sérgio Moro. Os demais personagens deixo em segundo plano.
Não há, até o momento, nenhuma pista forte ou confirmação de quem conseguiu, e como conseguiu, acesso às conversas entre o principal procurador e o ex-juiz da Lava-Jato. Nesse cenário, existem duas hipóteses. A primeira é que Deltan ou Moro teriam vazado o diálogo. A segunda, que um hacker teria invadido o celular de um (ou ambos) e interceptado as trocas de mensagens.
Partindo dessas premissas, me detenho na primeira. O que ganhariam Moro e Dellagnol com essa divulgação aparentemente negativa? Gerar uma convulsão social? Quem seria beneficiado com esse jato de querosene no incêndio que, há anos, vive o país? A entrega da conversa para um site configura, decerto, uma traição. Mas para quê Dallagnol trairia Moro? E o contrário? Por que desgastar o currículo do agora ministro, ou colocar em xeque a carreira do promotor? Parece improvável (improvável?), pois a ruína de um tem o mesmo significado para o outro. Ou não? E se pensarmos por outro viés: não é a mais pura vingança, muitas vezes sem pensar nas consequências, que motiva os tantos gargantas profundas que existem mundo afora?
Pode, contudo, haver uma estratégia envolvida nessa versão da traição. Um deles poderia estar fazendo planos a médio prazo e apostando em um reforço na imagem do herói nacional que tantos brasileiros veem em Moro e Deltan, já que o conteúdo da conversa confirma (confirmar é o verbo correto?) a intenção de prender a todo custo (“a todo custo” é a expressão correta?) o ex-presidente Lula. Em outra, Moro teria falado em “limpar o Congresso”.
Confirmando essa suspeita, qual então seria o motivo de vazar a conversa a um site notoriamente de oposição ao governo Bolsonaro e explicitamente pró partidos de esquerda (“explicitamente pró partidos de esquerda” é uma definição adequada?), como o The Intercept?
A explicação mais divulgada, até o momento, para a obtenção da troca de mensagens é a da ação de um hacker. O que nos leva a mais perguntas: Por que o hacker correria tal risco? O que ganharia com isso? Estaria trabalhando a pedido de alguém? Estaria essa pessoa, tal qual um Adélio Bispo, o homem que esfaqueou o atual presidente durante a campanha eleitoral, agindo sozinha (Adélio realmente agiu sozinho?), por pura paixão a uma causa ou ódio a outra? Paixão por Lula, ódio a Bolsonaro ou o quê, afinal?
Esse tema rende. E pode se desmembrar em muitos caminhos e descaminhos. Todos prováveis, palpáveis. Até mesmo os estapafúrdios, como as tantas teorias da conspiração que recebemos via redes sociais. Não há nada muito concreto, ainda. Por isso, cabe o alerta aos convictos, aos que acreditam estar do lado certo da história. A esses sugiro aguardar os próximos capítulos. E eles virão. Disso se pode ter certeza.
--------------
Texto publicado originalmente no site Mínimo Múltiplo
terça-feira, 28 de maio de 2019
Os Mujiques - Conto de Anton Tcheckhov
 |
| Tcheckhov 1860 - 1904 |
(...)
Conto publicado no livro O Assassinato e Outros Contos.
sexta-feira, 17 de maio de 2019
Empurrando o Fusca Para a Garagem
A buzina do carro soava incessantemente há alguns minutos. Ninguém na vizinhança parecia se importar. Fui na janela e confirmei. Era o carro de papai. Ele estava dentro, no banco do motorista. Sua cabeça parecia morta e pressionava a buzina. A porta estava aberta. Deduzi que ele tentou sair e apagou. Estava lanhado nos braços e tinha a gola da camisa rasgada. Cutuquei-o. Ele se mexeu levemente. Chacoalhei seus ombros e disse seu nome - como se ele não fosse meu pai, como se fosse meu vizinho. Ele, de olhos fechados e calado, se voltou a mim e me estendeu os braços - exatamente como fazem os bebês. Amparei-o com muita dificuldade e o levei para a casa. Ele ficou sentado no chão. Escorado no sofá. O pescoço se mantia caído. Voltei ao veículo. Teria de colocá-lo na garagem. De que jeito? Olhei aqueles pedais, a direção e a marcha. Havia um ordenamento para aquilo tudo funcionar. Mas eu era uma criança e não entendia nada. Resolvi empurrar. Usei toda minha força. Foram cinco tentativas de movê-lo para frente. Contudo, o fusca ia e voltava. Numa dessas, o carro embalou. Entrou enviesado e eu corri para segurá-lo, antes que se chocasse contra a mureta. Foi por pouco! Puxei o freio de mão - porque era assim que meu pai fazia quando me trazia para casa depois de voltarmos dos jogos do Internacional. Pronto. Fechei o portão da garagem com o cadeado. Olhei de fora e me senti orgulhoso. Parecia que alguém tinha estacionado aquele fusca. Amanhã, se meu pai estivesse bem, pediria para ele me ensinar a dirigir.
segunda-feira, 6 de maio de 2019
A Literatura É Capaz de Fazer Você se Sentir Outra Pessoa
Depoimento de Maria Valéria Rezende*
Tenho certeza de que todo mundo poderia ser escritor. Toda criança desenha, toda criança inventa história —nem que seja para enrolar a mãe —toda criança faz teatro com seus bonecos. Todos, então, criam literatura e são artistas. Só que depois o sistema educacional, as convenções sociais, de certa forma, fazem estancar esse processo nas pessoas.
Eu comecei a ler antes de saber ler. Nasci antes da televisão: à noite minha família costumava se sentar na varanda e dividir poemas. Meu avô tinha sido declamador e sabia muitos de cor. As pessoas sempre me perguntam quais foram os livros de que mais gostei na vida. Eu não sei dizer, faz 70 anos que sou leitora e tinha o costume de ler 2.000 páginas por semana.
Santos (SP), onde eu nasci, era uma cidade privilegiada para quem gosta de livro. Os barcos de carga não tinham televisão nem satélite nem coisa nenhuma; marinheiro em tempo de folga lia. Mas como o espaço reservado para a tripulação era muito pequeno, as bibliotecas que carregavam eram pequenas e, quando eles chegavam aos portos, trocavam seus livros por outros.
Então ali rodavam livros do mundo inteiro. Na época em que eu terminava o curso superior de literatura francesa na Aliança Francesa, o que se publicava muito era Camus, Sartre, Simone de Beauvoir. Assim que eu ouvia dizer que tinha um livro novo, ficava chateando meu pai —ele passava rádio para algum capitão de navio que conhecia, pedindo “traz aí da França o livro que acabou de sair pra minha filha!”.
Quando eu era criança, nunca quis festa de aniversário para mim, achava um desperdício. Aos dez anos, ouvi meus pais combinando de marcar uma festinha, já que era uma data redonda. Eu me meti no meio e disse: “Não quero nada disso: faz a conta do dinheiro que vocês iam gastar e pode me dar para eu comprar os livros que eu quiser”.
Ainda agora estou me vendo, voltando de passar em todas as livrarias de Santos, com as lágrimas escorrendo e duas sacolinhas nas mãos, porque não tinha conseguido gastar todo meu dinheiro. Nessa minha época de criança, nos anos 1940 e começo dos 1950, havia pouco livro infantil. Então rapidamente eu já tinha esgotado todos aqueles considerados infantis. Cheguei em casa e meus pais disseram: “Bom, o jeito então é dar livro de adulto para ela”.
E me presentearam com “Helena”, de Machado de Assis, achando que eu ia dar ao menos uma semana de sossego para eles. Mas, no dia seguinte, eu pedi outro.
Nessa época de formação, um livro que me marcou de maneira diferente foi “O Chamado da Floresta”, de Jack London. Eu devia ter uns 11 anos. Tinha um canto da casa onde me escondia para ler sossegada —afinal, sou a mais velha de seis irmãos—, que ficava no vão entre o sofá e a cortina da janela. Eu me enfiava lá e fazia uma espécie de tenda.
E lembro que, durante três dias, eu senti que era um cachorro. Não é bem o cachorro que conta a história do livro do London, mas o enredo é de um ponto de vista de afinidade com ele. E foi aí que entendi que os livros fazem mágica. A literatura, se é boa, é capaz de fazer você se sentir outra pessoa —ou até um ser de outra espécie.
Dali a um tempo também ganhei “O Velho e o Mar”, do Hemingway, e fiquei torcendo pelo peixe até o fim. E depois fiquei tão chateada com o autor que não queria ler mais nada dele.
Sempre me senti atraída pelas histórias que me tiram do já sabido. É claro que cada um tem o direito de ler e escrever o que quiser, mas, para mim, o que interessa é aquele livro que me tira do meu cotidiano, da minha identidade e me faz experimentar, de alguma forma, o que eu não sou.
Eu não seria capaz de fazer uma literatura mais intimista, ensaística, porque me entusiasmo mais com uma história na qual você consegue se colocar no lugar do personagem.
Não sei se sou uma grande escritora, mas sou uma boa contadora de histórias. Fiz muito isso de ouvir, contar e recontar no meu trabalho de educação popular. Como minha vida teve uma série de mudanças de região e de país, tive muitas experiências de aprender novas linguagens, gestos, comportamentos e histórias. E é como se a gente fosse se multiplicando.
O livro do Jack London me fez compreender isso pela primeira vez. Quando terminei de ler, já não era mais a mesma pessoa; dentro de mim, tinha um cachorro.
--------------------
Publicado originalmente na Folha de São Paulo
quarta-feira, 1 de maio de 2019
O Bebê da Mulher
A mulher com um bebê me aborda no parque.
"Que amor esse teu filho!".
"Obrigado", eu disse.
"Quantos anos?".
"Um ano e um mês".
"Que coincidência, a mesma idade do meu! O teu caminha?".
"Ainda não".
"Ah, o meu com sete meses começou a caminhar".
"Legal".
"E quantos dentes o teu guri tem?".
"Uns seis, acho".
"O meu tem dentição completa".
"Hum".
"E ele fala muito?".
"Fala pouco".
"Ih! O meu filho fala um monte".
Daí, o bebê da mulher interrompe a conversa.
"Mãe, por favor! Deixa eles em paz".
sexta-feira, 12 de abril de 2019
Jambolão
O outono voltou mais uma vez. Eu sei disso porque não há mais jambolão emporcalhando as calçadas com tinta roxa e cheiro forte. A lataria dos carros dos motoristas desatentos, que só querem uma sombrinha, estão salvas. O fato é que tem árvores demais dessa fruta na cidade. Os pássaros não dão conta. Ou, talvez, nem gostem. Provavelmente, prefiram butiá e pitanga.
Dizem que chá de jambolão é bom para diabetes. Sua tinta tenebrosa pode ser usada em roupas. Há até lendas hindus que citam-no. Um colega de trabalho disse que o caldo dá uma boa chimia. Tem uma avó que faz. "E se deixar curtir na cachaça?", perguntei. Disso ele não sabia. "É que butiá e pitanga sentam bem com cachaça", insisti. Ele também não sabia nada sobre isso. Não gostava de cachaça. Já uma amiga, para minha absoluta surpresa, nunca tinha reparado. Levei-a até um pé. Provou. Achou bom. "Mas é travoso", advertiu. "Se é travoso, é ruim", impliquei.
Lembrei disso enquanto admirava o resquício de uma mancha de jambolão no pátio, no chão de cimento queimado, enquanto meu tio e meu primo discutiam. Eles estavam muito compenetrados, em uma busca frenética por argumentos e ter razão. Era como se eu não estivesse ali. De certa forma, eu não estava mesmo. Divagava sobre o jambolão. E eles seguiam. O que motivou a rusga foi a denúncia de uma professora que estaria doutrinando os alunos a serem comunistas. Meu primo a defendia. Meu tio a acusava. Só que a coisa estava fora de controle.
"Já que tu sabe tudo, me diz onde o comunismo deu certo?", meu tio questionou, impaciente.
"Na Rússia!", respondeu meu primo, agilmente.
"Mas como deu certo se a União Soviética não existe mais? Ou tua professora sonegou essa informação?".
"Eu falei que deu certo, não que segue dando".
"Então, onde o comunismo segue dando certo?".
"Os índices nas áreas da Educação e Saúde de Cuba são ótimos".
"Cuba?!".
"Sim".
"Mas Cuba é uma ditadura!".
"Qual é o problema? Tu disse que a ditadura aqui no Brasil era boa!"
Assim, eles iam. Até que um choro agudo interrompeu meu segundo delírio. Desliguei a torneira. Esperei a água descer por completo. Sequei as mãos no pano. Deixei a louça com espuma na pia e fui acudir meu guri. Seu bico havia caído no chão e ele acordou um tanto assustado no berço. Coloquei em sua boca outra vez. Embalei-o um pouco em meu colo. Logo depois, o menininho voltou a dormir. Olhei sua caretinha sonolenta. Um dia, ele terá seus próprios argumentos e vai me confrontar. Um dia, talvez, ele reflita sobre o jambolão. Vá saber? Voltei à realidade. Peguei a caneta, abri o caderno, aproveitei a luz da cozinha e resolvi escrever. Comecei com "o outono voltou mais uma vez", porque realmente é outono.
--------------------------------
Crônica publicada originalmente no site Mínimo Múltiplo
segunda-feira, 1 de abril de 2019
Um Silêncio Avassalador - Conto a Conto
quinta-feira, 21 de março de 2019
Eu Não Sabia que Gostava do Tavito
Faz pouco morreu o Tavito. Eu não sabia que gostava do Tavito.
Só para ter uma noção de quem ele era. No começo da sua carreira, por tocar muito bem violão, substituiu Baden Powell em seis shows com Vinicius de Moraes.
Ele foi integrante da fantástica banda Som Imaginário (discografia essencial) e teve uma destacada carreira solo nas década de 70 e 80. Compôs os clássicos Rua Ramalhete, Casa no Campo, Marcas do que Se Foi.
Depois foi sumindo. Porém, não tava parado. Fez mais de 3 mil jingles. Entre eles o "vem pra Caixa você também, vem!" e "Eu sei que vou, vou do jeito que sei. De gol em gol, com direito a replay".
Seu disco de 1979 é um absurdo. Alto astral. Ótimos arranjos. Um som melhor que outro. Tavito foi sem alarde. Mas deixou uma obra significativa.
sexta-feira, 1 de março de 2019
Um Gato que Se Chamava Rex no listão da Quatro Cinco Um
Tem gente que nasce no corpo errado. Rex era um gato, mas achava que era um cachorro. Isso causou problemas, mas tudo deu certo quando seu dono passou a tratá-lo como um cão. Nem todos os cães aceitaram isso muito bem, mas Rex ficou muito feliz.
ils. Humberto Nunes.
Moinhos. 44. R$ 35.
#16 out.2018
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019
Um Livro Melancólico e Perturbador
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019
O Preço da Literatura
Quadro é diferente. Estátua é diferente. Grafite é diferente. Cinema é diferente. Música é diferente.
Literatura não.
Na Literatura, o valor do livro é o valor que ele custa pra ser feito. Ponto.
Tá tudo discriminado na nota fiscal.
terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Uma Noite que Eu Lembrei
Arlindo Sassi tocou Do You Wanna Dance, do Johnny Rivers, na Continental FM e eu lembrei de uma noite. Os garçons impacientes recolhiam as cadeiras da boate La Barca. Devia ser quase 7h. Um casal dançava coladinho. Olhos fechados. Obviamente, não era um casal de verdade. O fato é que eles estavam sozinhos no salão. Dançando lentamente.
Foi bonito. E triste.
sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019
Top 5 Caetano Veloso
Cinema Transcendental (1979)
Irretocável. Praticamente uma coletânea.
Cê (2006)
A retomada criativa depois de um insosso e careta anos 90.
Caetano Veloso (1969)
O álbum que melhor soube dosar psicodelia e música popular. O conceito é o mesmo do irregular Tropicália, lançado um ano antes.
Bicho (1977)
A figura do Caetano riponga vêm desse período. Bicho é o melhor dessa fase.
Cores, Nomes (1982)
quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019
Breve Resenha do Filme Roma
Os gringos até podem cair nessa de que Roma, lançado recentemente pela Netflix e concorrente ao Oscar, é uma obra-prima do cinema moderno. Não é. Mas eles acreditarem nisso, tudo bem. O que assusta é que nós estejamos repercutindo essa falácia. No Brasil, temos diversos exemplares de Roma. É um filme que reproduzimos aos montes, desde o Cinema Novo. Todo ano tem uns dez, no mínimo. Recentemente, tivemos os didáticos Que Horas Ela Volta e Casa Grande, descrevendo a relação entre pobres e ricos.
A história de Roma é a batida via crúcis do miserável. Em que ele é, acima de tudo, um forte. O desafortunado suporta as agruras do mundo, sempre meio alienado, e segue em frente. Pois a vida é assim mesmo. Os bem vividos são os culpados, os alienados de verdade, que não enxergam a real situação das coisas. O pobre vive a História. O rico só serve para narrá-la.
Roma é um dramalhão frio, que se passa na Cidade do México, década de 70, durante o truculento governo do presidente Luis Echeverría Álvarez, considerado uma ditadura perfeita por Mario Vargas Llosa. Narra a rotina de uma empregada doméstica de família. O pai do clã some, restando às mulheres da casa tomarem conta de tudo. O motivo da fuga só é explicitado no fim. E aí está uma boa sacada. Somente aí. Todo o resto é lugar-comum para nós, terceiro-mundistas.
Ao longo de duas horas, ficamos diante da mesma estética de um filme nacional típico. A lentidão de acontecimentos, a trilha insignificante, a culpa burguesa do diretor (o mexicano Alfonso Cuarón, mas poderia ser algum Moreira Salles, não faria diferença), pesando no roteiro. O diferencial para nossos filmes, e que piora as coisas, é que Roma é rodado em um cafona preto e branco. Aquela fotografia pretensiosa (Salve, Sebastião Salgado!).
Entretanto, nem tudo é negativo. É preciso também ver o lado bom. E a vantagem de Roma para outros filmes enfadonhos é que ele está disponível somente no catálogo da Netflix. Basta dar um stop e escolher outro.
------------------------
Texto publicado originalmente no Mínimo Multíplo
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019
Negrinha - Conto de Monteiro Lobato
 |
| Conto foi publicado no livro homônimo, em 1920. |
Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços e olhos assustados.
Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças.
Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço na sala de jantar), ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma — “dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia o reverendo.
Ótima, a dona Inácia.
Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não a calejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vagia, longe, na cozinha, a triste criança, gritava logo nervosa:
— Quem é a peste que está chorando aí?
Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de desespero.
— Cale a boca, diabo!
No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que entanguem pés e mãos e fazem-nos doer…
Assim cresceu Negrinha — magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos quatro anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a idéia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com pretextos de que às soltas reinaria no quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num desvão da porta.
quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
Maria Bethânia, Uma Cantora de Churrascaria
Essa foi a descrição de Maria Bethânia por Miguel de Almeida, jornalista do caderno Ilustrada, da Folha de São Paulo, em 27 de novembro de 1982.
Essas e outras histórias do período, onde o jornalismo cultural não tinha o menor interesse em cativar amizades, são contadas em no documentário Não Estávamos Ali Para Fazer Amigos.